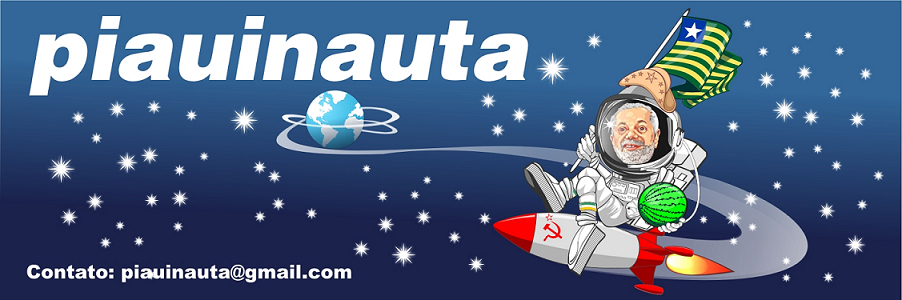Aderval Borges
Alguém do calibre do Dylan baixa no país e os repórteres são
logo escalados para escrever a baboseira de rotina. Ou seja, cobrir Dylan é
quase tão necessário e importante quanto cobrir os preços das flores e das
velas no Dia de Finados. Entrevista-se um bando de pessoas, remete-se às
passagens da história do cara que todos conhecem e dá-lhe lugares-comuns.
Talvez por isso a assessoria do músico americano avisou os
veículos nacionais com antecedência que, durante a turnê pelo país, ele não
atenderia à imprensa. Portanto, necas de coletiva e necas de seções de fotos.
A cobertura mais interessante e descompromissada foi uma
pequena reportagem ocasional do Jotabê Medeiros, do jornal O Estado de S.Paulo.
Por ser um dos melhores setoristas atuais de música – cobre da popular (dos
vários gêneros) à erudita (também dos vários gêneros e épocas) – o pautaram
para ir aos points habituais dos artistas estrangeiros que chegam ao Rio, a fim
de tentar encontrar o homem e conseguir furar o esquema. Ou seja, Jotabê foi
forçado pela chefia a falar com ele de qualquer maneira.
Encontrou os músicos num bar de hotel, mas disseram que não
faziam ideia de onde o Dylan estava. Depois de muitas idas e vindas, Jotabê
voltava para a sede da sucursal do Estadão de carro, quando a fotógrafa que o
acompanhava apontou para uma figura idosa esquisita andando pela rua de casaco
(num calor dos diabos), gorro e botas de cowboy. Era o cara!
Jotabê se aproximou e Dylan logo disse no coments. Mas o
repórter mentiu. Disse que não era jornalista e só queria uma foto para pôr num
blog pessoal. Dylan topou ser fotografado ao lado dele, na clássica relação
artista/fã. Conversaram rapidamente e o velho ogre disse que o bom de ficar
velho é ter se tornado qualquer um. Afinal, os únicos que o tinham reconhecido
àquela altura eram eles (o repórter e a fotógrafa).
Pediu informações sobre um lugar agradável para tomar umas e
comer. Jotabê deu a dica, mas disse que ficava um pouco longe. Tudo bem. Iria a
pé mesmo, para apreciar a cidade.
Um cena tonta, mas do cara real de agora, completamente
avesso ao estardalhaço da matéria abaixo.
A ARTE DOS EXTREMOS
DE BOB DYLAN VOLTA AO BRASIL
Fonte: Valor Econômico
(19/4)
Bob Dylan, que corre o Brasil com sua Never Ending Tour (a
turnê que nunca acaba), é uma das figuras mais luminosas da cultura popular
planetária. Em cinco décadas de vigorosa atuação, Dylan - persona criada por
Robert Allen Zimmerman, de 70 anos, em homenagem ao poeta galês Dylan Thomas
(1914 - 1953) - pratica sobretudo a arte dos extremos.
Emigrado de Minnesota, aspirava ao sucesso enquanto passava
fome em Nova York. Anos mais tarde, apontado como a voz da geração que
protagonizou as mudanças comportamentais dos anos 1960, esforçou-se para
afastar de si o cálice ("Não me venham com essa de queridinho da
rebelião", rosnava à imprensa). Foi o primeiro "traidor do
movimento" ao empunhar uma guitarra elétrica em pleno Newport Folk
Festival, em 1965. Próximo das anfetaminas, introduziu a Cannabis sativa ao
cotidiano dos Beatles. Lançou álbuns sublimes, e outros nem tanto. Criou e deu
de comer a boatos sobre sua vida pessoal. Na década de 1970, judeu,
converteu-se ao cristianismo e pregou a fé - para, nos anos 1980, renegá-la. Em
apresentações ao vivo, modificou a estrutura de seus maiores sucessos ao ponto
de especialistas não os reconhecerem. Tudo isso amparado por uma produção
textual cuja robustez o inscreveu no panteão dos poetas gigantescos.
"Bob Dylan, a meu ver, seria apenas um ótimo intérprete
country ou folk, com incursões no pop rock, se não fosse a extraordinária
qualidade das letras dele. Sua poesia faz a diferença. E, claro, sua
atitude", diz Claudio Willer, poeta, tradutor e doutor em letras pela
Universidade de São Paulo (USP). "Temas como 'Like a Rolling Stone' ou
'Mr. Tambourine Man' são abertos, ambivalentes, imagéticos - entre inúmeros
outros exemplos que poderia extrair de sua obra. Sua formação é ao mesmo tempo
musical, com uma recuperação de uma tradição, um mergulho em raízes americanas
representadas, por exemplo, por Woody Guthrie, e literária: um leitor de
poesia, um apaixonado por [Arthur] Rimbaud, e que saiu de casa e mudou tudo em
sua vida após ler 'On the Road', de [Jack] Kerouac."
Para Ademir Assunção, poeta, compositor e editor da revista
literária "Coyote", Dylan remete tanto ao trovadorismo medieval
quanto ao modernismo russo. "Ele é uma espécie de trovador, como eram os
poetas da Idade Média: além de enriquecerem a experiência da linguagem humana,
eles levavam e traziam notícias de um canto a outro da Europa, em suas
andanças", afirma Assunção. "Nas melhores canções ele entra em
sintonia com aqueles famosos versos de [Vladimir] Maiakóvski: 'A poesia / toda
/ é uma viagem ao desconhecido'. Para alguns, isso pode parecer pura afetação.
Mas quem frequenta os abismos da linguagem sabe do que estou falando. A
linguagem poética, ainda mais quando surge no contexto da música e do canto,
pode nos levar a alturas e profundezas inexplicáveis."
A lírica de Dylan também seduz o poeta Fabrício Corsaletti.
"Ele é capaz da mais extrema delicadeza, como um [e.e.] cummings, como um
[John] Keats, e ao mesmo tempo consegue ser tosco e sujo, estilisticamente
falando, como a prosa de [Fiódor] Dostoiévski", observa.
As peças musicais elaboradas pelo compositor americano
alimentaram o repertório de incontáveis artistas. A lista de releituras é
assustadoramente diversa. E o cantor e guitarrista Jimi Hendrix (1942 - 1970)
certamente é um dos que figura nela em posição de destaque. "Existia uma
admiração mútua entre esses dois monstros que mudaram toda estética do rock.
Minha interpretação favorita de Dylan por Hendrix é 'All Along the Watchtower',
uma releitura soberba que enobreceu a força literária da letra com timbres
poderosos de guitarra", diz Alberto Marsicano, citarista, escritor,
filósofo e tradutor. Pensamento semelhante ao do rapper BNegão: "Nos meus
tempos de colégio, depois do rap e do punk rock, comecei a ouvir muito blues e
Jimi Hendrix. E, a partir do guitarrista, chapei demais no som e nas letras do
mister Zimmerman", diz o líder dos Seletores de Frequência e ex-Planet
Hemp.
No cancioneiro popular brasileiro, Dylan surgiu pela
primeira vez na década de 1970. Caetano Veloso e Péricles Cavalcanti assinaram
a versão de "It's All Over Now, Baby Blue", que teve o nome
"Negro Amor" sugerido pelo artista plástico Rogério Duarte. A canção
foi lançada por Gal Costa, no álbum "Caras & Bocas", em 1977 - e
foi regravada depois por Zé Geraldo, Engenheiros do Hawaii, Zé Ramalho, Toni
Platão, entre outros. "Caetano havia escolhido a música e me chamou para
desenvolvermos juntos a tradução. A ideia original era que Maria Bethânia
gravasse, mas ela não se entusiasmou. Mostramos 'Negro Amor' para Gal e ela
adorou. A gravação foi um acontecimento", conta Cavalcanti, lembrando que
os censores da época implicaram com o verso "Seus soldados desarmados não
vão mais lutar". "Acabamos trocando soldados por guerreiros e, só aí,
a versão foi liberada", diz o músico, que já visitara a produção de Dylan
em circunstâncias menos claustrofóbicas. "Morei na França em 1969 e toquei
muito violão no metrô de Paris. Cantava 'Mr. Tambourine Man' junto com 'Asa
Branca', de Luiz Gonzaga."
Ainda no Brasil setentista, "Ouro de Tolo",
sucesso de Raul Seixas, lançado em 1973, no álbum "Krig-ha,
Bandolo!", tinha inegável acento dylanesco, E, evidentemente, a versão de
"Blowin' in the Wind", defendida por Diana Pequeno, em 1978.
Da geração que despontou no cenário musical nos anos 2000,
outro brasileiro bastante familiarizado com a obra de Dylan é Helio Flanders,
cantor e compositor do Vanguart. Tanto que não foram poucos aqueles que
acreditaram ser o cuiabano o novo Zimmerman dos trópicos. "Eu cantava em
inglês letras longas com influência beatnik, violão folk, voz chorosa e uma
gaita pendurada no pescoço. O que isso significa? Pronto, mais um exemplo do
quão Bob Dylan está presente na cultura pop. Não importa como eu soasse, todos
olhavam e diziam: 'Bob Dylan'! Nada mal para um garoto chegado do interior para
tocar suas canções sobre trens e viagens", diz Flanders. "Gosto de
todas as fases, inclusive da gospel. Cheguei a estudar todas as suas canções
folk, mas se tiver que escolher um período acabo ficando com o mais
emblemático, aquele entre 1965 e 1966, e os três irretocáveis álbuns 'Bringing
It All Back Home', 'Highway 61 Revisited' e 'Blonde on Blonde'."
Homem de fases, o paradoxal Bob Dylan continua na estrada.
Ao final da etapa brasileira, a turnê segue para Argentina, Chile, Costa Rica e
México. Aos europeus, exibe-se em julho. Do alto de seus milhões de discos
vendidos, prêmios como Grammy, Globo de Ouro e o Oscar na estante,
condecorações honorárias de universidades, livros e longa-metragens a
decifrar-lhe, o bardo é uma miríade de significados. Um mito que se arrisca, e
que, não raro, se contradiz. Talvez o mais demasiadamente humano dos ícones.